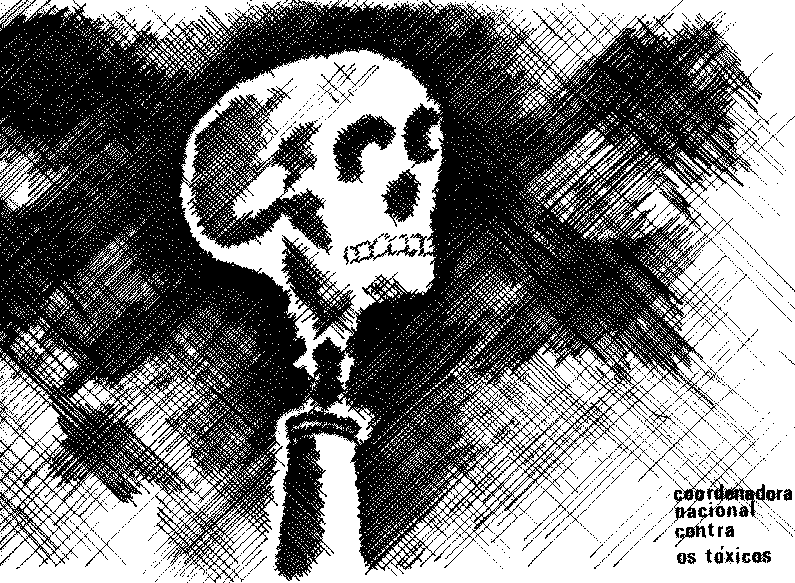
| NÃO NOS LIXEM | NÚMERO 2 - SETEMBRO/OUTUBRO 1995 |
(CONCLUSÃO)
No caso das incineradoras de resíduos tóxicos, as
matérias que entram no forno são compostas de uma mistura
complexa de subprodutos industriais. Encontramos aí, com efeito,
solventes clorados, pesticidas, PVC, tintas, produtos farmacêuticos,
metais, tinturas e pinturas.
Não é raro, não mais, ver as incineradoras procederem
à combustão de produtos proibidos pela comunidade cientifica
internacional. É nomeadamente o caso do pesticida DDT, dos
clorofluorcarbonos (CFC) utilizados nos aerossóis, e os
bifenis-policlorados (PCB) utilizados nos transformadores eléctricos.
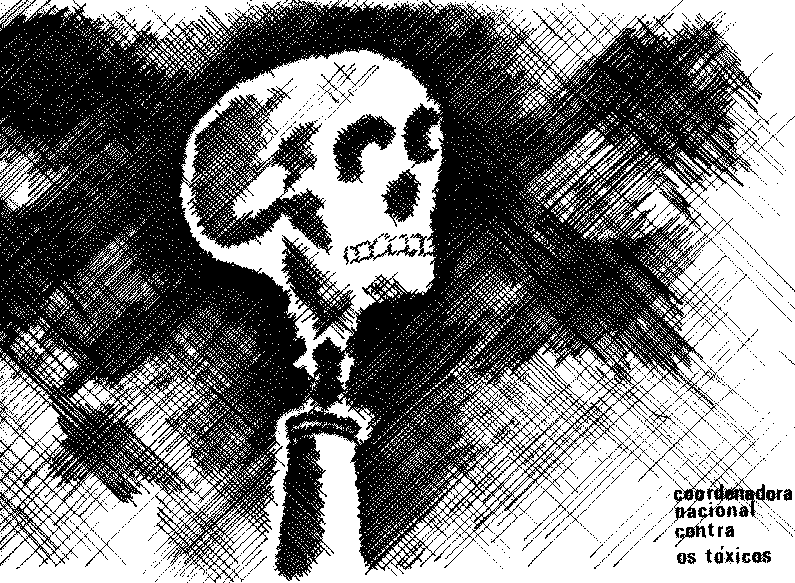
A companhia que explora a incineradora é incapaz de fornecer a composição química precisa, dos materiais que entram no forno. Com efeito, a alimentação em resíduos não está sob vigilância constante. Um relatório, em 1984, da agência para a protecção do ambiente dos Estados Unidos, constata:
«Se excluirmos os locais onde uma incineradora está virada para a combustão de uns resíduos específicos, a composição detalhada dos resíduos incinerados é desconhecida»
Certos produtos químicos perigosos são extremamente voláteis. Assim, antes mesmo de chegarem à incineradora, já se libertaram em contacto com o ar. Estas fugas incontroladas ou «emissões fugitivas», produzem-se durante o transporte, a carga/descarga e o derrame. Mas são também devidas a fendas, fugas, reservatórios danificados e válvulas defeituosas à volta e no próprio incinerador.
Como nenhum processo de incineração oferece uma garantia de eficácia a 100%, uma determinada quantidade de resíduos incinerados é forçosamente lançada para a atmosfera pelas chaminés.
De entre os produtos químicos comummente detectados nos fumos encontram-se as dioxinas (PCDD), os furanos (PCDF), o clorofórmio, o hexaclorobenzeno, o percloroetileno, os bifenis-policlorados (PCB), o formaldeído e os fosgénio. Também se encontram com facilidade metais pesados como o chumbo, o cádmio, o crómio, o arsénio e o mercúrio.
Pelo contrário, porque as outras substâncias (não metálicas) só uma ínfima proporção pôde ser já identificada e ser objecto de análises científicas.
Num esforço louvável de limitação da poluição atmosférica, um grande número de sociedades equipou os seus incineradores de aparelhos de purificação das emissões e de «controle» da poluição. Estes depuradores (máquinas de lavagem, scrubbers, etc.) e filtros neutralizam o ácido clorídrico (HCL) e o ácido fluorídrico (HF); retêm também certas substâncias sólidas antes da libertação dos gases na atmosfera. Estes «scrubbers» exercem a sua acção depurativa, com a ajuda da água. Capturam as matérias poluentes, ao lavar os gases na base da chaminé. Os filtros electro-estáticos, por seu lado, capturam as substâncias sólidas com a ajuda de um campo eléctrico.
As aparelhagens não podem:
 eliminar a maior parte dos tóxicos orgânicos;
eliminar a maior parte dos tóxicos orgânicos;
 prevenir completamente a síntese de novos compostos tóxicos;
prevenir completamente a síntese de novos compostos tóxicos;
 parar este «ciclo vicioso» dos resíduos tóxicos.
parar este «ciclo vicioso» dos resíduos tóxicos.
Podem, entretanto, concentrar os tóxicos nas partículas em suspensão, nas lamas dos fumos, nas cinzas captadas pelos filtros e nas escórias.
Os resíduos sólidos tais como as cinzas, os filtros secos, as escórias, são pura e simplesmente despejadas nas descargas; porque os resíduos líquidos - lamas de lavagem dos fumos - a «solução» consiste no seu despejo no curso de água mais próximo.
As cinzas podem representar até 9% do volume total dos resíduos orgânicos líquidos e até 29% dos sólidos incinerados.
Concentram-se aí, metais pesados, organoclorados, entre eles as dioxinas e os furanos, bem como outros produtos que não são evacuados com os gases.
A atenção dos controladores, dos políticos e dos media, focaliza-se essencialmente nas emissões gasosas. Esquecem-se de ter também em conta os resíduos sólidos e líquidos. Não há qualquer acompanhamento analítico, contínuo ou pontual, que possa, actualmente, garantir a vigilância da gama completa das substâncias químicas lançadas no ar.
Pior ainda: os estudos realizados sobre as emissões assentam na análise de algumas amostras e na realização de dois cálculos teóricos. Conclusão: as incineradoras operam baseadas em estimativas, probabilidades e simulações em laboratório, e não em dados reais, dados permanentes de vigilâncias das emissões das chaminés. Resumindo, é uma teologia «primitiva».
São utilizadas duas fórmulas matemáticas para se verificar o funcionamento de uma incineradora: a eficácia da combustão e a eficácia da destruição. Note-se que estas fórmulas são concebidas para se avaliar o nível de performance do sistema e não visam a apreciação do conteúdo ou a toxicidade das emissões.
Esta fórmula avalia a performance da incineradora, medindo as taxas de monóxido de carbono (CO) e de dióxido de carbono (CO2) presentes nos gases, à saída da chaminé. A presença de CO indica uma «combustão incompleta». Um aumento do teor de CO reflecte a presença de materiais não queimados.
Ainda que os cálculos de eficácia de combustão dêem uma taxa de 99,99%, subsistem ainda 0,01% de resíduos não queimados. Este número pode parecer ínfimo e ridiculamente baixo. Mas os cancerólogos, avaliam a exposição aos tóxicos em número de moléculas. Para medir o impacto potencial sobre a saúde e os organismos vivos, esta abordagem parece mais apropriada, porque tais emissões, mesmo ínfimas, constituem uma verdadeira ameaça.
Mesmo numa incineradora sem falha, sem perda de eficácia nos períodos de arranque e de fim de ciclo, a um nível constante de fluxo de detritos, este «rendimento» atinge permanentemente 99,99%, o tratamento de 30.000 toneladas de lixo por ano produzirá 3.000 Kgs de resíduos não queimados. Expressos em termos de moléculas de percloroetileno, por exemplo, isto representa 109 mil biliões de biliões de moléculas...
Determina-se uma lista de seis compostos chamados «principle organic hazardous constituents» (POHC). De seguida retiram-se antecipadamente das emissões 2 a 5 amostras, que se analisam para verificar se não contêm nenhum destes POHC. Neste caso, a combustão é considerada «eficaz». Este procedimento foi criticado. Com efeito, a destruição destes POHC não significa igualmente que todos os compostos presentes nos resíduos tenham sido destruídos ou que tenha sido levada em conta a formação de «produtos de combustão incompleta». Entretanto, os períodos de arranque, as avarias e os erros humanos também não são excepção. Mesmo o mais pequeno desvio pode alterar a eficácia da incineradora.
A analogia seguinte permite compreender melhor este rendimento teórico, que necessita de condições ideais: a publicidade automóvel refere um certo consumo aos 100 Kms. Estas performances são impossíveis de conseguir no uso quotidiano. No caso dos resíduos, as consequências de um rendimento mais fraco são graves, pois implicam uma emissão mais significativa de produtos tóxicos.
A maior parte das empresas de incineração exercem um auto-controle. Assim sendo, as autoridades encarregadas do controle são incapazes de garantir que o rendimento anunciado corresponde inteiramente à realidade. Qual era a composição exacta dos resíduos queimados aquando da tomada das amostras? Como é que as análises foram realizadas? Porque métodos? Houve uma contra análise aprovada por um laboratório neutro? Estas e outras são questões sem resposta.
Compare-se esta situação com a do controle técnico automóvel. Que pensar de um condutor que, em vez de se apresentar na oficina autorizada, se limite a atribuir-se uma carta verde com o pretexto de que tinha ele mesmo examinado a sua viatura e afirmado que estava tudo em ordem?
Cada nova incineradora é submetida a um «teste inicial de combustão», antes de ser explorado. Este teste é destinado a verificar a sua eficácia. Assim, um estudo similar pode ter lugar periodicamente o que regra geral, significa entre 2 a 5 anos.
É impossível que uma tal representação pontual possa dar uma imagem apropriada de um processo tão flutuante: condições de funcionamento da incineradora, alteração das características dos lixos e modificação da composição dos resíduos.
Na Bélgica, a situação é muito imprecisa. A legislação é desactualizada e vaga. Também, os meios de teste e controle são quase inexistentes. Por outras palavras, as instalações de incineração não são submetidas a controles reais obrigatórios, com todas as consequências que isto implica no ambiente e na saúde pública.
A maior parte dos resíduos tóxicos incinerados e os «produtos de combustão incompleta» pertencem à família dos organoclorados.
Vários estudos demonstraram que uma exposição a estes produtos pode causar cancros, malformações à nascença e abortos. Estes produtos podem causar igualmente lesões importantes no sistema reprodutivo, provocar a esterilidade, enfraquecer o sistema imunitário e ser a fonte de problemas nos rins e fígado.
Metais pesados tais como o chumbo, o arsénio e o crómio, podem, com a combustão, tornar-se mais tóxicos. Uma exposição ao crómio antes de ser incinerado, por exemplo, pode originar alergias. O crómio após a combustão pode provocar o cancro.
Estudos recentes, sugeriram possíveis ligações entre formas raras de cancro, tais como o da laringe, nos adultos, e a presença de incineradoras de produtos tóxicos. Casos raros de malformação congénita nos olhos foram observados em crianças nascidas numa região situada na proximidade de uma incineradora.
Contudo, foi sempre extremamente difícil estabelecer uma relação de causa-efeito entre tais problemas de saúde e as incineradoras. O caso Hanrahan, relativo a uma contaminação de gado na Irlanda, é um dos raros exemplos em que danos provocados foram finalmente imputados a uma operação especifica de incineração.
A incineração não só permite às indústrias produtoras e utilizadoras de substâncias tóxicas de se desfazerem dos seus resíduos, mas, por outro lado, elimina também toda a possibilidade de serem processadas legalmente. Com efeito, como estabelecer em traço de ligação entre os danos causados de resíduos tóxicos?
As instalações de incineração não
são geradoras de emprego para a colectividade em que se implantam.
O que por vezes criam são trabalhos sujos. Citamos:
«o transbordo por bombagem, dos resíduos dos contentores e dos
barris para a incineradora, a raspagem dos resíduos tóxicos
colados às paredes das câmaras de combustão, a limpeza
dos encanamentos e a reparação dos contentores de
substâncias químicas que apresentem fugas.»
Desde que uma incineradora industrial é posta em funcionamento numa colectividade, o único crescimento económico que esta pode esperar consiste na implantação de um número cada vez mais elevado de indústrias à base de produtos tóxicos.
A região tornar-se-á uma «zona tóxica sacrificada». As indústrias de transformação e o sector dos serviços não pretendem implantar-se numa zona que abriga uma incineradora. Os potenciais residentes tendem a evitar locais considerados poluídos e susceptíveis de acarretar riscos para a saúde. A experiência mostra que o valor das propriedades (casas, terrenos) próximas a uma incineradora diminui. Em última análise, as incineradoras só representam interesse para as companhias de engenharia, para os seus proprietários, bem como para as indústrias poluentes que são os seus fornecedores de matéria prima.
A incineração é muitas vezes descrita como a «solução». É apresentada como uma «tecnologia aprovada» ou ainda como a «única alternativa realista» à crise dos resíduos industriais, domésticos e tóxicos. Na realidade, a incineração dota as indústrias de uma maneira fácil para escapar às suas responsabilidades face aos resíduos.
 Se tivermos em conta o número limitado de testes e de controles
que envolvem as operações de incineração, este
processo merece bem ser designado pelos termos «de experiência por
estudo e erro».
Se tivermos em conta o número limitado de testes e de controles
que envolvem as operações de incineração, este
processo merece bem ser designado pelos termos «de experiência por
estudo e erro».
 Oferece à indústria um meio cómodo para camuflar
os problemas actuais e por os transferir para as gerações
futuras.
Oferece à indústria um meio cómodo para camuflar
os problemas actuais e por os transferir para as gerações
futuras.
 Os investimentos injectados na tecnologia de incineração,
atrasam a exploração e aplicação de medidas
que visem encorajar a redução dos resíduos tóxicos
na origem. Desencorajam o desenvolvimento dos processos de
«produção limpa», bem como a fabricação de
produtos que respeitem a natureza.
Os investimentos injectados na tecnologia de incineração,
atrasam a exploração e aplicação de medidas
que visem encorajar a redução dos resíduos tóxicos
na origem. Desencorajam o desenvolvimento dos processos de
«produção limpa», bem como a fabricação de
produtos que respeitem a natureza.
 Para ser fonte de rendimento, a incineração necessita
que se gerem permanentemente resíduos. A legalidade de financiamento
dos custos de construção encoraja portanto a
produção de resíduos.
Para ser fonte de rendimento, a incineração necessita
que se gerem permanentemente resíduos. A legalidade de financiamento
dos custos de construção encoraja portanto a
produção de resíduos.
| © 1998, COORDENADORA NACIONAL CONTRA OS TÓXICOS |